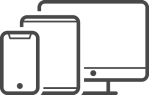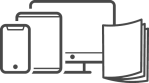Matéria originalmente publicada na Revista VOCÊ S/A, edição 265, em 19 de junho de 2020.
Cerca de 2.000 pessoas são mais ricas do que 60% da população mundial. Esse dado, que mostra o tamanho do abismo entre os bilionários e o restante dos indivíduos, foi apurado em janeiro de 2020 pela Oxfam, ONG especializada em desigualdade social. A instituição ainda revelou outro número: o 1% dos mais abastados do planeta detém mais do que o dobro da riqueza de 6,9 bilhões de pessoas.
Mas alguns deles procuram devolver parte de sua fortuna para a sociedade por meio da filantropia e assim podem apoiar a cultura, a educação, a ciência, a saúde e as questões sociais. Fazem parte desse grupo empresários e investidores abastados, como Warren Buffett, George Soros, Michael Bloomberg e Bill Gates — este último, aliás, doou em fevereiro deste ano 100 milhões de dólares para a pesquisa e o tratamento contra o coronavírus por meio da Fundação Bill e Melinda Gates, criada pelo fundador da Microsoft e por sua esposa. O valor dessa doação específica pode até parecer alto, mas é apenas uma gota do oceano da filantropia americana. Em 2018, pessoas físicas, fundações e empresas doaram cerca de 427 bilhões de dólares para instituições de caridade e projetos filantrópicos, de acordo com dados da organização Giving USA Foundation. O montante equivale a cerca de 2% do PIB dos Estados Unidos.
Por aqui, o cenário é bem diferente. Segundo o último Índice Global de Solidariedade, de 2018, o Brasil teve seu pior desempenho de doações já registrado: ocupou o 122o lugar no ranking geral, que lista 146 países. Em 2017, o Brasil estava na 75a posição. O levantamento é feito pela Charities Aid Foundation (CAF), instituição britânica que se dedica ao investimento social e privado, e leva em conta o número de pessoas que no ano anterior ao da pesquisa doaram dinheiro para uma organização da sociedade civil, ajudaram um estranho ou fizeram trabalho voluntário. O Brasil está logo atrás de Equador, Hungria e Bielorrússia e muito distante dos cinco primeiros colocados: Indonésia, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Irlanda. Não é à toa que uma pesquisa feita em 2015 pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis), parceiro da CAF no Brasil, mostrou que a filantropia representa apenas 0,23% do PIB brasileiro — algo em torno de 13,7 bilhões de reais.

Quem segura as pontas da filantropia no Brasil são as empresas. O relatório Global Philanthropy Report de 2018, realizado pela Harvard Kennedy School, identificou que mais de 90% das instituições filantrópicas do planeta são fundações independentes ou familiares. Mas o Brasil vai contra a corrente. Por aqui, 64% das fundações são ligadas a corporações. As companhias estão investindo cada vez mais em seus setores de responsabilidade social, não apenas por incentivos fiscais mas porque as novas gerações de consumidores estão de olho no posicionamento das organizações. Uma pesquisa de 2019 feita pela consultoria Deloitte indicou que 38% dos jovens da geração Z deixariam de comprar de marcas envolvidas em escândalos relacionados a questões sociais e de sustentabilidade.
“Esse papel das empresas está sendo discutido em todo o mundo. As organizações com maior sucesso não são mais aquelas que só pensam em dinheiro, mas as humanistas. Atuações fortes são bem-vistas pelo público, não só de consumidores e investidores mas de profissionais. Há atração e retenção de talentos maiores, assim como uma alta taxa de engajamento”, diz Edgard Barki, coordenador do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV Eaesp).
De quem é a responsabilidade?
As explicações para a falta de uma cultura filantrópica de pessoas físicas no Brasil passam pela formação histórica do país, de acordo com Fernando Schüler, cientista político e professor na escola de negócios Insper. “Nós temos uma presença forte do Estado em áreas como saúde, educação e cultura. Com isso, a sociedade civil se retrai e delega ao governo o controle dessas áreas. Quando precisa de um hospital em um bairro, por exemplo, ninguém pensa em se organizar e buscar recursos; o que as pessoas fazem é se voltar para o governo. E, na verdade, a essência da filantropia é a autorregulação social”, explica. Por esse motivo, a ideia filantrópica no país está ligada ao conceito de assistencialismo. Só que isso é um equívoco: mais do que boas ações isoladas ou caridade, a filantropia busca realizar mudanças estratégicas, efetivas e de longo prazo que promovam desenvolvimento econômico e social.
Outros fatores que interferem na criação dessa mentalidade são a alta carga tributária e a burocracia. A história de José Mindlin, bibliófilo e empresário fundador da fabricante de autopeças Metal Leve, ilustra bem essas questões. Mindlin começou a colecionar livros raros aos 13 anos e, durante sua vida, reuniu uma coleção de cerca de 32.000 títulos, correspondentes a 60.000 volumes — entre eles estão pérolas como a primeira edição de O Guarani, de José de Alencar (de 1897), o original de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e a revisão do manuscrito de Grande Sertão: Veredas, com anotações de Guimarães Rosa.
Em 2002, Mindlin se reuniu a István Jancsó, então diretor do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da Universidade de São Paulo, para construir uma biblioteca que abrigaria sua própria coleção, além do acervo do IEB, formado pelos arquivos e livros de Sérgio Buarque de Holanda.

Mas algumas pedras apareceram no caminho até a inauguração da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, em 2013. A primeira foi o fato de que, para doar seus livros à USP, o bibliófilo teria de pagar um imposto de 15% da diferença entre o valor declarado das obras e o de mercado. A alternativa para não haver essa cobrança seria criar uma fundação. Mesmo assim, Mindlin precisaria desembolsar 4% de imposto sobre o valor das obras para transferir seus livros para sua própria fundação. O imbróglio foi resolvido em 2006, quando a coleção foi, finalmente, doada. Mindlin faleceu três anos antes da abertura de sua biblioteca e não pôde ver sua tarefa finalizada.
“Temos um sistema tributário que não promove a doação individual. As empresas ainda têm incentivo fiscal, mas para pessoas físicas é mais difícil”, diz Paula Fabiani, diretora presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis). Ela explica que o imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) varia de 2% a 8%, dependendo do estado brasileiro. “Isso é um absurdo. É óbvio que é um pouco de desculpa para não doar, mas, dependendo do valor, pode se tornar um empecilho. Antes de estimular a filantropia, a gente tem de repensar essa tributação.”
Além da burocracia, a filantropia pode ser prejudicada pela percepção de que o privado e o público não podem se misturar. Um caso que exemplifica isso também aconteceu na USP. Em 2009, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco recebeu uma doação de 1 milhão de reais da família do banqueiro Pedro Conde para a reforma de um auditório. Em contrapartida, a sala seria batizada com o nome do empresário. No entanto, no ano seguinte, após a troca da reitoria e protestos de alunos e professores (que alegavam que a instituição não deveria homenagear pessoas de fora da academia), a placa foi retirada. Em 2012, a Justiça determinou que a universidade devolvesse o valor recebido por não ter cumprido o acordo com a família.
Sequelas da negligência
Um país sem a cultura filantrópica também sai perdendo em guerras comerciais. Afinal, as doações para pesquisas acadêmicas, ciência e tecnologia podem fazer muita diferença na economia. “É interessante quanto esse tipo de investimento pode ser estratégico para posicionar o Brasil quando o assunto é tecnologia, novos negócios e saúde, mas ao mesmo tempo os casos de doações para esses segmentos são baixos”, diz Paula, do Idis.
Os dados da CAF mostram que causas voltadas para animais e crianças ganham destaque: 39% das doações são destinadas para esses dois grupos. E apenas 8% vão para a saúde. Investimento filantrópico em ciência se torna ainda mais importante porque o governo brasileiro tem falhado em colocar dinheiro na área. De acordo com o mais recente relatório Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, de 2018, os aportes em pesquisa e desenvolvimento vêm caindo desde 2016. No ano passado, 42% das despesas de investimento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações foram congeladas.

A crise do coronavírus está evidenciando a necessidade de apoiar as ciências de saúde e gerou uma explosão de doações. Até o dia 25 de maio, os brasileiros tinham doado mais de 5,3 bilhões de reais para o combate à covid-19 — seja para a compra de equipamentos médicos, seja para a pesquisa —, segundo a Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), que criou um monitor de doações durante a pandemia. Grande parte desse montante é proveniente de companhias privadas, e uma delas se destaca: o Itaú Unibanco doou 1 bilhão de reais. “Esta tragédia vai produzir uma mudança da estrutura da filantropia brasileira. O terceiro setor é mais ágil, consegue correr riscos em uma velocidade que o governo e as empresas não conseguem ou não têm interesse”, afirma Katia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil.
Mas, antes de a covid-19 se espalhar pelo Brasil, havia uma instituição privada sem fins lucrativos pioneira em incentivar a ciência e a divulgação científica no país. Trata-se do Instituto Serrapilheira, fundado em 2017 por João Moreira Salles, documentarista, idealizador da revista Piauí e filho de Walther Moreira Salles, fundador do Unibanco, e por sua esposa, Branca Vianna. Para criar o instituto, o casal doou 350 milhões de reais oriundos de um fundo patrimonial criado em 2016. João Moreira Salles e seus três irmãos têm a fortuna estimada em 3,1 bilhões de dólares e estão em sétimo lugar entre os brasileiros mais ricos, de acordo com ranking da revista Forbes de 2019.
Admirador das ciências exatas e biológicas, João teve a ideia de apoiar a área de maneira estruturada depois de conversas com o matemático Jacob Palis, pesquisador emérito do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) do Rio de Janeiro, e da aproximação com Artur Avila, matemático ganhador da Medalha Fields, a maior honraria da disciplina, que foi entrevistado por João para um perfil na Piauí.
Desde sua criação, a organização já auxiliou mais de 90 cientistas investindo mais de 25 milhões de reais. A seleção dos pesquisadores é feita por meio de chamadas públicas voltadas para estudiosos de matemática, ciências físicas, ciências da vida e engenharia. Cada selecionado recebe um financiamento anual de 100.000 reais. Após esse período, os projetos são reavaliados para receber mais investimento. Até três deles podem receber até 1 milhão de reais — 700.000 reais são concedidos de forma incondicional e os outros 300.000 reais são para a integração e a formação de pesquisadores.

“A ciência é a solução para vários problemas brasileiros em diversas áreas, e ter uma ciência forte é uma questão de segurança nacional. Mas isso não está claro para os tomadores de decisão”, diz Hugo Aguilaniu, diretor presidente do Instituto Serrapilheira. Ele explica que a pesquisa e a produção científica têm custo alto e retornos pequenos. “Mas criam uma base da qual podem emergir tecnologias, produtos e cura de doenças.” Para Hugo, as empresas investem no assunto, só que não de forma desinteressada como na filantropia. “Até 70% dos recursos para pesquisa e desenvolvimento no Brasil vêm do setor privado, mas a iniciativa não é sustentável porque não dá lucro, e o investimento pode ser cortado a qualquer momento.”
Existe também a necessidade de haver divulgação dos projetos científicos. Sem isso, fica difícil criar uma rede de especialistas que sejam reconhecidos por seus feitos — o que estimularia o interesse da sociedade no assunto. “O brasileiro não dá valor para a ciência porque quase não temos cientistas famosos. Quanto mais as pessoas se interessam, é natural que o governo se sensibilize com a pauta.” Para mudar esse cenário, o Serrapilheira oferece workshops e recursos para cientistas que queiram comunicar sobre seus trabalhos.
Não é assistencialismo
Outra área que costuma ser deixada de lado nas doações é a de direitos humanos: somente 9% dos valores arrecadados são destinados a organizações voltadas para essa questão, de acordo com a CAF. “Os trabalhos sociais de direitos humanos ainda sofrem com uma imagem de assistencialismo e com a ideia de que ‘não se dá o peixe, ensina-se a pescar’. Mas as pessoas esquecem que há muita gente que não tem nem acesso ao rio para aprender a pescar”, afirma Paula, do Idis.
A falta de recursos das organizações não governamentais que atuam com direitos humanos foi o que chamou a atenção da família Lafer — cujo patriarca, Miguel Lafer, foi um dos fundadores da fabricante de papel e celulose Klabin, na qual os herdeiros têm hoje participação. Em 2011, os Lafer criaram o Instituto Betty & Jacob Lafer como uma forma de organizar os recursos da família para fazer um trabalho filantrópico mais estruturado. “Procuramos por uma área que tivesse a ver com o interesse e os valores da família. Percebemos que os direitos humanos contam com ONGs que fazem trabalhos importantes, mas são carentes de recursos”, diz Inês Mindlin Lafer, diretora do instituto. “Em vez de criar novas ações, optamos por financiar as já existentes.”

Em seus quase dez anos de atuação, a instituição já destinou mais de 10 milhões de reais para 40 organizações diferentes. Além disso, ajuda a aprimorar os projetos, realizar pesquisas, veicular informações e desenhar estratégias para a implementação de políticas públicas. “A filantropia não substitui o poder público, mas é capaz de realizar ações que fazem diferença na sociedade”, diz Inês. Ela acredita que todos, independentemente da renda, podem se envolver com a filantropia de alguma maneira. Por isso, idealizou o Confluentes, um programa que conecta pessoas físicas a projetos filantrópicos pré-selecionados que atuam em temas como segurança pública, igualdade de gênero e meio ambiente, entre outros. As faixas de doação partem de 5.000 reais por ano. “Muitos acham que só porque não estão entre o 1% mais rico não podem doar. O programa é voltado para essa pessoa que quer fazer a diferença”, diz Inês. “Muitas vezes a gente reclama do governo e se sente impotente, mas há coisas que estão ao nosso alcance e não sabemos.”
A força da profissionalização
Para garantir o sucesso filantrópico, um dos segredos está na profissionalização da área. De acordo com Custódio Pereira, presidente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas (Fonif), esse é um dos motivos pelos quais os Estados Unidos são referência no assunto. “Os americanos profissionalizaram a figura do captador de recursos e desenvolveram métodos de arrecadação. Quando você vai estruturar uma causa, precisa ter cientificidade: saber quanto de dinheiro é necessário, por quanto tempo, quais serão as ações, quantas pessoas serão beneficiadas. Tudo isso aumenta a credibilidade do projeto, que recebe cada vez mais doações”, explica Custódio.
Um método muito utilizado no exterior e que está ganhando espaço no Brasil é o de fundos endowment — também conhecidos como fundos patrimoniais (os mesmos usados por João Moreira Salles no Instituto Serrapilheira). Eles são voltados para a arrecadação, gestão e destinação de doações para programas de interesse público. No início do ano passado, o governo brasileiro sancionou a Lei no 13.800, que autoriza a administração pública a firmar parcerias com gestoras de fundos patrimoniais.
Qualquer tipo de projeto filantrópico pode se beneficiar desse financiamento, mas ele é mais comum na administração de museus e organizações de apoio à cultura — a lei, inclusive, passou a ser discutida após o incêndio que destruiu, em 2018, o Museu Nacional do Rio de Janeiro. “Fora do país, a maioria dos museus tem fundos desse tipo. Isso é muito vantajoso, porque garante a perpetuidade das instituições e, ao mesmo tempo, a administração não fica dependente de doações de curto prazo ou de auxílio do governo”, afirma Fernando Schüler, do Insper.
Um exemplo de museu brasileiro que seguiu os passos de instituições como o Museu de Arte Moderna (MoMa), de Nova York, e o Instituto Smithsonian, de Washington, é o Masp. Em 2013, o museu símbolo da cidade de São Paulo se viu no meio de uma dívida de 12 milhões de reais, além de uma pendência de 10 milhões de reais com a Previdência Social. O jogo virou depois que Heitor Martins — que também é colecionador de arte e sócio da consultoria McKinsey — assumiu o cargo de diretor presidente do Masp em 2014. O executivo assumiu a cadeira do museu paulistano depois de uma experiência bem-sucedida como presidente da Fundação Bienal, de São Paulo, entre 2009 e 2012, período em que foi responsável por profissionalizar a instituição, que tinha um rombo de 2,8 milhões de reais quando ele assumiu e corria o risco de não realizar a exposição de 2010.

No Masp, Heitor se uniu a um grupo de executivos liderado por Alfredo Setubal, CEO do Itaúsa, para desenhar um plano de reestruturação do museu. No projeto, havia a criação de um fundo patrimonial. “A gente se espelhou nos museus americanos, que são privados, mas têm apoio da sociedade civil. O endowment é uma forma de arrecadação, mas também temos outros modelos de doações e parcerias”, explica Heitor.
Só no ano passado, o Masp contou com a contribuição de 47 empresas que ajudaram com 22 milhões de reais. Já as doações de pessoas físicas, companhias e organizações do setor privado somaram 31 milhões de reais. O fundo patrimonial, que foi lançado em 2017 e ainda se encontra na fase de acumulação primitiva, conta está com 15,2 milhões de reais — a meta é atingir 40 milhões de reais em até cinco anos, que é o suficiente para bancar o funcionamento do museu durante um ano caso acabem todos os seus recursos. Como base de comparação, o Metropolitan Museum of Art, de Nova York, o mais importante dos Estados Unidos, tem, em 2020, um fundo de 3,6 bilhões de dólares.
O que tem feito a diferença no Masp é o fato de conselheiros e diretores do museu precisarem fazer uma contribuição anual mínima de 25.000 reais para o endowment. “Precisávamos de ações que fossem transparentes financeiramente e dialogassem com as pessoas. Por isso, nós criamos uma área de relações institucionais que controla o dinheiro arrecadado e comprova que ele está sendo gasto de uma maneira séria”, diz Heitor. A transparência, aliás, é o pilar da filantropia. Sem ela, os doadores se afastam por não saberem se os montantes estão mesmo sendo utilizados para o que foi acordado. E não importa se a doação é de 1 real ou de 1 milhão de reais. Uma cultura filantrópica nasce da confiança.











![[BF2024] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://gutenberg.vocerh.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/10/BF2024-Paywall-DESKTOP-728x90-2.gif)
![[BF2024] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://gutenberg.vocerh.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/10/BF2024-Paywall-MOBILE-328x79-2.gif)